Ocorreu de eu fazer algumas maratonas de filmes de terror, suspense, thriller, sobrenatural, temática snuff (sobre filmar torturas e assassinatos reais), found footage (estilo câmera na mão) e extrema violência — enfim, filmes para roer as unhas, perturbar e chocar. Diga-se o que se disser dos filmes barra-pesada, a maioria te prende do início ao fim. Enfim, depois de acumular tantos filmes, foi rápido e natural fazer as seguintes recomendações a quem mais se interessar (e você, que poderá deduzir o que me agrada dos comentários abaixo, não hesite em me sugerir outros filmes). Eis uma lista, dos piores ao melhores que vi:
―――――
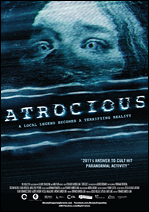 O Misterioso Assassinato de uma Família
O Misterioso Assassinato de uma Família
(Atrocious, 2010, Fernando B. Luna)
Nota: 2
Com orçamento aparente de 230 reais, a proposta “tudo pelo realismo” desse filme resulta num fracasso monumental. O filme mais breve-e-interminável que já vi: 70 minutos quase que só de mata embaçada e tremida — extremamente tremida! — filmada pelo que parecem ser adolescentes com mal de Parkinson. Atuações as piores possíveis. Em 95% do tempo, absolutamente nada acontece. Em meio à sonolência e tédio, consegue gerar algum suspense, alguma tensão, mas está muito longe de valer à pena. Tem um final que até seria um pouco interessante se você não estivesse irritadíssimo (além do mais, há quem descubra a “surpresa” logo de cara). Por outro lado, a estratégia realista extremista resultou em alguma coisa: nunca vi tanta gente ingênua acreditando, pra valer, que o filme se trata de realidade (o que é afirmado na capa); obviamente, estas são as pessoas que tendem a elogiar o filme.
Expectativa Correta: verei uma versão de 6ª categoria de A Bruxa de Blair.
―――――
 A Cabana do Inferno
A Cabana do Inferno
(Cabin Fever, 2002, Eli Roth)
Nota: 3,5
Inevitavelmente vi alguns filmes de adolescentes indo fazer farra e sexo em alguma cabana isolada, e se dando mal (no caso aqui, graças a um vírus bastante agressivo). Este filme é o pior deles, por ser ultra genérico. Tudo é completamente previsível. E se desenrola de forma lenta, maçante. Os personagens são tipica e irritantemente estúpidos. Algumas pessoas elogiam o humor do filme: talvez funcione pra você, mas o achei deslocado e tosco. O que tem de quase bom é um início promissor e uma ou outra cena de força razoável. O final é desastroso. Por que o assisti? Após ver o clássico perturbador O Albergue (chegarei nele), de Eli Roth, vi muitas pessoas elogiarem o trabalho inicial do diretor, que é este aqui. Uma decepção total.
Expectativa Correta: verei um ultra-clichê “terror na cabana” metido a engraçaralho.
―――――
 A Casa de Cera
A Casa de Cera
(House of Wax, 2005, Jaume Collet-Serra)
Nota: 4,5
Essencialmente igual ao filme anterior (jovens + farra + lugar remoto + estupidez), este aqui tem uma ou outra vantagem: premissa bem mais interessante (pessoas tornadas bonecos de cera enquanto vivas — em vez de vírus genérico), mas desperdiçada; suspense um pouco melhor (não que seja grande coisa); a casa de cera é ótima; pelo menos uma situação perturbadora (se bem que enfraquecida pelo fato de o filme ser ruim). Consegue não ser chato a maior parte do tempo, ao menos. Mas inclui vilões muito burros, atuações caricaturais e umas tantas mortes ridículas. Dei excessivo crédito à boa premissa do filme, que foi mal utilizada. Não vale à pena perder esses 90 minutos, afinal.
Expectativa Correta: verei poucas coisas marcantes, misturadas com um irritante desperdício de boas ideias.
―――――
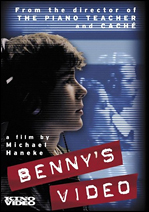 O Vídeo de Benny
O Vídeo de Benny
(Benny’s Video, 1992, Michael Haneke)
Nota: 5
Eis um filme promissor: primeiro trabalho de Michael Haneke (do sensacional Violência Gratuita), seria um filme de found footage anterior a A Bruxa de Blair. Mas nem é. É apenas um adolescente psicopata que, meio à toa, mata uma amiga em casa, enquanto está filmando. “Queria ver como é”, dirá depois. O resto do filme é a intriga familiar, envolvendo seus pais, sobre como lidar com o problema – o filho psicopata, a polícia, o corpo da garota, etc. Apesar do final interessante, o filme não se salva. Não pra mim. É chatíssimo, daquele tipo de cinema europeu “pretensiosamente silencioso” do pior tipo. É preciso tentar deduzir as motivações dos personagens através de comportamentos e expressões completamente vagos; não há nada para deduzir, afinal, é tudo enrolação pedante. Ótimo pra turma do “me engana que eu gosto”. Quereria não ter perdido meu tempo.
Expectativa Correta: verei um filme chatíssimo com um bom final que não compensa.
―――――
 Filme Caseiro
Filme Caseiro
(Home Movie, 2008, Christopher Denham)
Nota: 5,5
Autêntico found footage, esse é um filme abaixo do razoável que eu só recomendaria para quem é extremely extreme fan do estilo “bruxa de blair” de cinema. A desculpa para a existência das filmagens caseiras, aqui, são as datas especiais do ano: Natal, Ano Novo, Páscoa, etc. Trata-se de uma família — pai, mãe, menino, menina — que, obviamente, decidiu ir morar num lugar completamente isolado. E que seria muito feliz se suas crianças não fossem completamente sinistras. Volta e meia, agindo como autistas, matam insetos ou animais. E obviamente a coisa vai piorando. Em pelo menos dois momentos, o filme consegue tornar realmente intrigante a natureza dessas crianças, mas fica por isso. O suposto “algo mais” que o filme se propõe ter (e que algumas pessoas elogiaram) é o conflito Fé x Razão: pois o pai é um pastor religioso e a mãe, psicanalista ateísta. Mas essa discussão é completamente superficial no filme, e só atrapalha. Ademais, o filme carrega mais no suspense e sugestão do que no choque explícito (ao contrário do que faria pensar sua primeira cena). Muitas vezes chato, e com um final genérico, além de mal atuado, o filme é um grande desperdício de potencial.
Expectativa Correta: até ficarei intrigado, mas frustrado pela direção chata e óbvia que a história toma.
―――――
 O Colecionador de Corpos
O Colecionador de Corpos
(The Collector, 2009, Marcus Dunstan)
Nota: 6
Tinha lido duas coisas: que a ideia inicial deste filme seria contar o passado do Jigsaw, de Jogos Mortais (depois, a ideia mudou), e que era “um filme que te prendia do início ao fim” (o maior argumento para me convencer a assistir algo). Mas nesse caso era mentira. O que temos aqui é a tentativa de um novo serial killer, com um modus operandi interessante, mas é tudo absurdo demais: encher uma casa de armadilhas (generic-Saw-style) para que a família, assim que acorde, vá se ferrando bonito; e, após torturar uns e outros, escolher um deles para levar (pois o vilão coleciona pessoas!) e matar os restantes. Por coincidência, um ladrão muito legal invade a casa justo num momento desses. E torceremos por ele, contra o Collector, até o fim do filme. O ruim é que tudo, no filme, é de segunda categoria: atuações, armadilhas, sequências estratégicas, torturas. E sobretudo o vilão: um mascarado grandalhão bem sem graça, espécie de Bane pobre. De bom, a esperteza e altruísmo do ladrão; e alguns momentos eficazes de tensão. O final me agradou (o que é a razão de existir o parágrafo seguinte).
Aí tem O Colecionador de Corpos 2 (The Collection, 2012), mesmo diretor, que eu quis ver logo em seguida apesar de tudo. Começa satisfatório (dado o final do filme anterior) e avança para uma sequência que se arrisca entre o exagerado e o espetacular. Eu gostei, teve quem achou clássico para o gênero, mas pode soar apenas absurdo. Seja como for, quando o filme realmente começa fica rapidamente chato e desinteressante. E… não consegui ter paciência para continuar assistindo.
Expectativa Correta: verei um vilão sem sal, criando situações implausíveis, mas me distrairei um pouco.
―――――
 Noroi: The Curse
Noroi: The Curse
(Noroi, 2005, Koji Shiraishi)
Nota: 6,2
Espécie de Arquivo X japonês, mas no estilo found footage, o filme mostra gravações de um investigador do paranormal, Masafumi Kobayashi, que lentamente (muito lentamente, err…) tomam a direção de uma investigação sobre uma espécie de ritual satânico. Embora sempre lento, o filme começa bem e instigante, mas vai piorando: personagens caricatos e situações muito implausíveis (além de repetitivas) vão sendo reveladas. Lá pelas tantas, tudo se encaminha de forma torturantemente previsível. Como as atuações também não são nada demais, o filme é em geral fraco — soa quase amador. Mas é interessante, apesar de tudo, seguir a investigação sem firulas de Kobayashi: ele vai onde precisa ir, conversa com quem precisa conversar, procura as informações certas. O fio de curiosidade, apesar da chatice e enrolação, não se perde ao longo do filme. Mas é apenas isso. Só que, por se tratar de um filme japonês, muita gente o elogia além da conta — pela simples razão de que soa cool elogiar qualquer filme que não seja americano. Bla. De passagem, vale mencionar outra vantagem aqui: é found footage, mas não tem aquela constante e irritante câmera tremida.
Expectativa Correta: verei uma investigação meio Arquivo X interessante, apesar de chatinha e previsível.
―――――
 Sexta-Feira 13
Sexta-Feira 13
(Friday the 13th, 2009, Marcus Nispel)
Nota: 6,5
Sempre achei Jason legal. E queria ver a versão moderna da coisa. Muitos odiaram esse filme, como se fosse uma deturpação do Jason original, mas um comentário que li no Filmow (Gustavo Freitas) resume o que penso: “Tem tudo que os filmes oitentistas tem, só que com roupagem atual, tem peitos, adolescentes burros, vadias, muito sangue, sustos, roteiro sem novidades, cliches e o bom e velho Jason com pano na face e depois com a classica mascara. Não tem o pq odiar este filme se aguentou os 9 anteriores feliz da vida”. E é isso aí. Ênfase no “peitos” — tiveram colhões de fazer apelação sexual pra valer aqui (que é metade do que se quer, num filme desses). Não obstante, o filme poderia facilmente ser melhor. Em particular, há algumas mortes bem ridículas (ex: a moça sob o trapiche, surpreendida com uma flecha vinda de cima, na cabeça). Também deveriam ter mantido o Jason sem correr (e, no entanto, se aproximando daqueles que correm dele, hehe). Contudo há mortes fortes (moça queimada, rapaz com a perna presa, fucking putz), a mitologia do personagem é bem tratada, e os jovens são menos irritantes que o de costume. Aliás, por que alguém gostaria de ver mortes assim mesmo? Porque a adrenalina vai lá em cima. É nossa natureza. E adrenalina é prazer: funciona como na montanha-russa. Enfim, o filme é uma ótima síntese dos três primeiros filmes dos anos 80.
Expectativa Correta: verei todos os clichês legais de Jason, não mais que isso, e tudo bem.
―――――
 Vile
Vile
(Vile, 2012, Taylor Sheridan)
Nota: 6,5
Filhote descarado de Jogos Mortais, esse filme funciona bem; provavelmente já é melhor do que Jogos Mortais 2, por exemplo, do qual é quase uma cópia. Mas o “quase” é importante: a diferença da história, aqui, consegue trazer algo novo (não muito, rs). Outra vez, temos pessoas presas dentro de uma casa, precisando passar por torturas. A diferença é que elas precisam torturar umas às outras, e a situação é tal que todas elas concordam com isso e precisam colaborar (embora desesperadas, é claro). Ocorre que acordaram com uma estrutura na nuca, que coletará adrenalina, dopamina e serotonina de seus cérebros — mas tais substâncias só são produzidas sob dor e pânico. Tortura, pois. O grupo tem 24 horas para fazer o contador atingir 100%. Concordam com isso porque, convenientemente, um idiota tentou tirar a estrutura da nuca e morreu. Por que os captores criaram essa situação? “Eles fazem drogas com essas coisas”, especula uma das vítimas. Lá pelas tantas, o grupo concorda que cada um contribuirá com 14% (de tortura) para o mostrador. E passam a sortear a ordem de quem será torturado. É tudo bem angustiante! O filme aproveita as oportunidades óbvias: que ocorre quando chega a vez de uma mulher? Os últimos tentarão/conseguirão ludibriar os primeiros? Quais torturas compensam (enchem o mostrador sem ferrar demais o torturado)? Enfim, dilemas interessantes não faltam. As próprias torturas competem bem com a série Jogos Mortais. Depois de um tempo, o filme degenera num caos, e fica meio ruim. Reviravoltas desnecessárias. Mas termina até legal. Eu veria um segundo.
Expectativa Correta: verei uma semi-cópia razoável de Jogos Mortais 2.
―――――
 Morte ao Vivo
Morte ao Vivo
(Tesis, 1996, Alejandro Amenábar)
Nota: 6,7
O diretor espanhol Alejandro Amenábar está por trás dos excelentes Mar Adentro, Os Outros e Abre los Ojos (cujo Vanilla Sky é uma versão pior). Então fiquei sabendo que seu primeiro filme era sobre snuff movies (como 8 milímetros, vide meu texto mais abaixo). Então era pedida óbvia na “maratona do mal” que fiz. E o filme é bem bom, como de esperar. Só não é melhor porque, inevitavelmente, é amador em diversos aspectos. Senti quase estar vendo uma novela, em alguns momentos. Mas recomendo: uma estudante de cinema acaba descobrindo um comércio de snuff movies nos bastidores de sua faculdade. E conta com um amigo para investigar a situação. O suspense gerado não é grande coisa, mas vale. Também há uma intriga subjacente, e uma questão sobre confiar em / gostar de pessoas sedutoras… (de fato esse é o ponto alto do filme, a meu ver, entregando reações bastante plausíveis de todos os personagens). Quanto à violência perturbadora, o filme ladra, e ladra até muito bem, mas não morde. Apenas um pouco mais forte do que o próprio 8 milímetros — que, eu li em algum lugar, teria sido inspirado neste aqui. Acaba sendo chato e arrastado em alguns pontos, o que não perdôo, e por isso a nota talvez mais baixa do que o de fato merecido. Se você tem paciência, gostará mais do filme que eu.
Expectativa Correta: verei um suspense legal, que seria bem mais intenso se não parecesse uma novela.
―――――
 V/H/S
V/H/S
(V/H/S, 2012, [Nove Diretores!])
Nota: 6,7
Premissa espetacular, realização fraquíssima: um grupo de baderneiros, que filma as próprias badernas (como levantar a blusa de uma mulher na rua), vai invadir uma casa para roubar uma fita (porque alguém os contratou pra isso, presumo). Na casa, encontram um velho morto sentado diante de TVs fora do ar, um videocassete e fitas. O filme é o conteúdo dessas fitas, que alguns ladrões assistem enquanto outros vasculham a casa em busca da fita certa. A peculiaridade é que todas as fitas tem conteúdos bizarros (e vou ficar nessa palavra vaga mesmo), embora completamente não relacionados entre si. A primeira fita acaba sendo a melhor do filme, a meu ver. E o filme vai gradualmente piorando, o que é uma pena. O final é eficaz, mas tem o péssimo defeito de impedir qualquer ótima explicação que pudesse ser dada para aquela situação tão insana! Por que, afinal, existe uma casa com alguém morto que assistia as fitas mais estranhas do mundo? O que adoro nesse filme é a constante sensação de what-the-fuck? que ele proporciona. E rende ótimas surpresas, sustos, cenas violentas, suspense e tensão — só que com muita coisa tosca misturada. Algumas atuações são ótimas, outras ridículas. E se você tem dor de cabeça com câmera tremendo (eu não tenho), fuja. Esse filme é o pior de todos, nesse sentido. Vem a continuação aí. Vou querer ver.
Expectativa Correta: ficarei intrigado e tenso com histórias what-the-fuck? — pena que vão piorando.
―――――
 Fenômenos Paranormais
Fenômenos Paranormais
(Grave Encounters, 2011, The Vicious Brothers)
Nota: 7
Galhofa foda, mas cumpre o que promete e nunca é chato. Está no top 10 de qualquer lista de found footage, com razão. A ideia é ótima: Lance Preston é o apresentador de um reality show de caça-fantasmas e o que assistimos é a gravação não-editada do que seria o episódio 8 do programa — onde obviamente deu merda. O filme tem um peculiar grau de tosquice em que não fica claro se a auto-paródia é voluntária ou involuntária, mas não interessa. O que interessa é que a parte de terror funciona, e as partes toscas são do tipo que dá pra rir delas. Por exemplo, vemos cenas “que deveriam ser cortadas” onde o apresentador revela sequer acreditar em paranormalidade e trata o público como imbecil — mas a atuação é tão ruim que essa tentativa de forçar realismo se torna divertida, de tão tosca. Mas o cerne do filme são mesmo as cenas sinistras, em típica câmera noturna esverdeada… e granulada. Como isso funciona fácil! Além disso, há algumas cenas realmente chocantes (o rato, por exemplo). Lá pelas tantas, os acontecimentos se tornam absurdos, mas isso também é bom. Uma boa definição pro filme: bela mistura de Atividade Paranormal com o final de [REC]. E aí tem a sequência do filme…
Fenômenos Paranormais 2 (Grave Encounters 2, 2012, John Poliquin) merece um 6,5 ou 6,8, o que significa “quase tão bom quanto o primeiro”. Ora, quem procura esse filme (como procurei), quer simplesmente mais do mesmo. E encontra. Demora um pouco pra engrenar, mas engrena bem. E fica ainda mais absurdo do que o primeiro filme, mas você não vai se importar com isso, certo? Desde que o nível de terror aumente um tom, na atmosfera do primeiro filme, tudo bem. Um defeito: aqui a estupidez dos personagens é… simplesmente inacreditável. Engula-se isso. Uma vantagem: adiciona umas tantas informações legais ao universo — eu veria um terceiro filme. E gostei da premissa aqui: como em A Bruxa de Blair 2, o primeiro filme é tratado realmente como um filme, que foi aos cinemas e tudo, dentro do segundo filme. E a questão que surge é: seriam as gravações do primeiro filme reais? Sim, absurdamente, seriam! E isso move a “trama”. Com um final que abraça o absurdo sem pudor, o fato é que a história propriamente louca que está sendo contada… cresce. Descartável, mas divertido.
Expectativa Correta: verei um terror galhofa de velhos truques apelativos, mas eficaz. Será divertido.
―――――
 8 Milímetros
8 Milímetros
(8 mm, 1999, Joel Schumacher)
Nota: 7
Sempre quis ver esse filme e, nessa balada de filmes sinistros, incluindo alguns sobre snuff movies, a hora era essa. Snuff movies, pra quem não sabe, são gravações reais de pessoas sendo propositalmente torturadas e assassinadas, para fins comerciais — como se ver gente morrendo pra valer fosse uma espécie de pornografia para alguns. 8 mm é sobre isso. Pelo que vi, ainda se discute se existem tais coisas no mundo real, ou se não passam de lendas urbanas (parece que ao menos uma onda de snuff movies reais, vitimando mexicanos nos EUA, ocorreu nos anos 70. Medo!). Bem, 8 mm é um bom filme apesar de muitos defeitos — o que já é uma grata surpresa, sendo seu diretor quem é! Mas se podia soar perturbador em 1999, pra quem nunca tinha sequer ouvido falar dos snuff, certamente parece bem mais brando pra quem já viu outros filmes dessa lista aqui (sejam ou não sobre snuff) — ou eu mereceria ouvir, como diz um personagem do filme, “o demônio já mudou você”. Perturbador ou não, 8 mm continua merecidamente sendo referência no tema. E tem seus próprios méritos: o que mais gostei, aqui, é o sucesso com que o filme consegue contrastar a frieza e indiferença de quem tortura e mata uma estranha a sangue frio, com a profunda (sagrada, se algo merece esse adjetivo) ligação sentida por aqueles que amam (ou ao menos se importam humanamente com) a mesma pessoa. E faz esse contraste sem qualquer moralismo, conseguindo ser realmente tocante. Outro mérito é a competência do detetive: vibramos com sua inteligência e perspicácia em diversas situações, e também com sua fibra de caráter (Nicolas Cage está ótimo). De bandeja, nos faz refletir sobre a sempre importante questão: a ilusão consoladora ou a verdade terrível? Infelizmente, sua conclusão nos brinda com vilões demasiado caricatos (mas, paradoxalmente, contradigo que Peter Stormare é sempre bom e aqui não é diferente!) e estúpidos, além de uma vingança bem frustrante.
Expectativa Correta: verei uma história instigante e tocante, que satisfaz apesar de uma parte final fraca.
―――――
 O Segredo da Cabana
O Segredo da Cabana
(The Cabin in the Woods, 2012, Drew Goddard)
Nota: 7
Mais adolescentes atrás de farra e sexo numa cabana isolada. Mas aqui é super proposital — o que já fica claro desde o início, se bem que de forma intrigante e estranha (mas divertida). Dessa vez, de fato, o título nacional não poderia ser mais adequado. Na parte de terror ultra-genérico que esse filme faz questão de ser, nem faz feio. E então tem a outra parte, quando o filme cresce para outra coisa, grandiosa e muito divertida, sem deixar de ser uma ação razoável também. Simpatizei com o filme. E é muito legal repensá-lo à luz do fim. Fica retrospectivamente mais divertido ainda. Vale um leve spoiler pra quem já viu, mas se você não viu e quer arriscar, tudo bem: o filme é uma explicação engraçada de por que as situações clichês ridículas dos filmes do gênero (jovens em cabanas) ocorrem.
Expectativa Correta: verei uma história surreal, com terror e ação médios, que se revelará algo muito legal.
―――――
 [A Entidade]
[A Entidade]
(Sinister, 2012, Scott Derrickson)
Nota: 7,2
Coloquei em branco o título nacional desse filme porque, ridiculamente, é um spoiler. Esse filme é uma… frustração! Porque começa espetacular e segue brilhante até a exata metade. Brilhante mesmo, nível Se7en! E, de repente, numa cena óbvia, tudo vai por água abaixo. Aí se torna apenas um filme razoável de outro tipo. Mas longe de ser horrível. Vale ver, afinal. Pra começar, temos o sempre ótimo ator Ethan Hawke (Antes do Amanhecer, Gattacca) como um romancista de crimes verdadeiros. Dez anos antes, havia sido celebridade por ajudar a resolver um caso; depois, caiu no ostracismo com livros de pouco sucesso — um até prejudicou certa investigação policial. Nada disso é mostrado, apenas somos brevemente informados. Agora ele se muda, com família e tudo (!), para a casa onde ocorreu um crime assustador (crime que, com quatro mortos e uma criança desaparecida, abre o filme de forma magnífica, diga-se). Ali encontra um baú no sótão, com outros filmes gravados pelo assassino! E então o filme realmente faz jus ao seu título (o original). De roer as unhas. E com sustos de gelar a espinha. Ainda conta com um eficiente drama subjacente do protagonista: até que ponto ele quer resolver o crime ou simplesmente reconquistar a fama perdida? E a que preço? Infelizmente, tal drama acaba simplesmente sendo deixado de lado. E quando o filme piora, não fica péssimo. Recomendo, apesar da frustração inevitável.
Expectativa Correta: verei uma metade espetacular de roer as unhas, e outra metade frustrante nem tão má assim.
―――――
 Temos Vagas
Temos Vagas
(Vacancy, 2007, Nimród Antal)
Nota: 7,5
Provavelmente o melhor thriller — leia-se: tensão e nervosismo o tempo todo — que eu já vi. E é melhor que você o veja sem saber de nada (não leia nem a sinopse!). Mas, para sentir de que espécie de coisa se trata, basta saber que o filme começa com um casal tomando um desvio na estrada, em plena madrugada, e tem problemas no carro. E aí tem um hotel por perto. Pra esse tipo de filme, as atuações estão acima da média. E é sensacional que os personagens sejam inteligentes, em vez de estúpidos. Mas eu gostei mais do filme do que a maioria das pessoas, pelo que vi. Reclamam que é cheio de furos, mas quando se pensa direito, nem é. Certas ocorrências são um pouco implausíveis, mas até isso faz sentido e está longe de ser problemático. Explico pra quem já viu, com spoilers: certamente o casal de protagonistas dá sorte algumas vezes (como encontrar a portaria vazia ou ter os vilões distraídos porque um comprador de filmes apareceu), mas é de esperar que cedo ou tarde os donos do hotel dariam esse azar (já tentaram isso umas 200 vezes, afinal, como vimos no início do segundo filme).
Aí tem a continuação, Temos Vagas 2: A Primeira Diária (Vacancy 2: The First Cut, 2008, Eric Bross), que é muito ruinzinho. Nota 4, distrai e mal. Conta uma história ridícula de como tudo começou. E, dessa vez, os personagens são tipicamente estúpidos. Temos correria maçante, em vez de suspense. Não vale ver.
Expectativa Correta: extremely extreme “fodeu-muito-agora!”.
―――――
 The Poughkeepsie Tapes
The Poughkeepsie Tapes
(The Poughkeepsie Tapes, 2007, John Erick Dowdle)
Nota: 7,5
Vale citar a sinopse: “Quando centenas de fitas cassetes, mostrando torturas, assassinatos e desmembramentos, são encontradas em uma casa abandonada, elas revelam uma década do reino de terror de um serial killer e se tornam a mais perturbadora coleção de provas criminais jamais vistas…”. Esse é um pseudo-documentário bem remoto e desconhecido, do tipo que só se acha em listas especializadas de filmes do tipo — o que certamente contribui para que assisti-lo seja perturbador. De fato, altamente perturbador. É realista? Para a maioria das pessoas normais, certamente; já entre os fãs do gênero, pelo que vi, há mesmo quem ache o filme pouco verossímil. A mim, ao menos, convenceu muito: nunca tive sensação tão grande de realismo — exceto por uns poucos momentos, onde o excesso de firula realmente trai a encenação da coisa. Mas isso é até um alívio, já que tudo o mais é tão agressivamente inquietante. Contudo, a inquietação vem muito mais da sugestão que da violência explícita, o que também é um alívio: se o filme realmente mostrasse aquilo que seu brilhante texto te convence de que será mostrado em seguida, seria traumático, isto sim! O.o Sendo como é, você já se sente criminoso só de estar vendo a coisa… Recomendo aos fortes. Acha-se uma legenda não oficial no legendas.tv e o respectivo release (de uns 600 mb) no kat.ph.
Expectativa Correta: ficarei com medo do que será exibido em seguida, o filme inteiro.
―――――
 Sobrenatural
Sobrenatural
(Insidious, 2011, James Wan)
Nota: 8
Não leve muito a sério minha nota 8. Gostei do filme, sobretudo, por um motivo que a maioria não gostou: ele ousa dar algum sentido ao comportamento tipicamente arbitrário do reino sobrenatural. E o faz bem, a meu ver. A reação típica: “o filme se expôs demais, teria sido melhor preservar a sensação de mistério”. Talvez. Mas, por favor, já há toneladas de filmes envolvendo o sobrenatural que “preservam a sensação de mistério”; e, na maioria deles, isso não passa de uma licença para exibir situações assustadoras aleatórias totalmente despropositadas. É bom que exista uma exceção, oras. Além do mais, este filme aqui têm mais três vantagens sobre os filmes típicos: atuações boas; reações de medo plausíveis dos personagens (em vez dos típicos gritos histéricos genéricos); e, mais importante, uma trilha sonora + sonoplastia absolutamente espetacular, de chamar atenção pra si. Estão corretos os que dizem que, aqui, temos os melhores sustos em muito tempo dentro do gênero. E isso é porque, embora vejamos muitas situações que já vimos por aí, aqui o timing + sonoplastia é perfeito (sério: faz toda a diferença ver o filme com som de qualidade, ou em fones de ouvido, do que vê-lo com som de segunda). Depois o filme muda e, inevitavelmente, troca o ótimo suspense quase que por ação. Mas funciona, ao menos se você está interessado na teoria que o filme conta. E eu estava. Quem diria que o desgastadíssimo tema das casas mal assombradas ainda daria algo?
Expectativa Correta: verei velhos sustos funcionando surpreendentemente bem; e uma teoria-do-além legal.
―――――
 O Nevoeiro
O Nevoeiro
(The Mist, 2007, Frank Darabont)
Nota: 8,2
Darabont, que já tinha adaptado Stephen King pro cinema com sucesso em À Espera de Um Milagre e Um Sonho de Liberdade, acerta outra vez e agora no gênero terror: O Nevoeiro é um filme, e uma história, pela qual não se dá nada: pessoas presas num supermercado, cercado por uma névoa bizarra que, de algum modo, violenta os que tentam sair — até que o filme se prova, minuto a minuto. É realmente muito bom! Desgraçadamente, é prejudicado por efeitos especiais ruins; mas nem tão prejudicado assim, mostrando que se a história é boa, o visual é secundário. Merecendo ser dito “tenso do início ao fim”, imergindo o espectador numa situação sufocante e cada vez mais intrigante-what-the-fuck?-level, o filme arruma tempo para gerar reflexões sociológicas e psicológicas magníficas, com base nos conflitos que vão surgindo (de forma natural e interessante) entre os personagens. Em particular, uma fanática religiosa torna a situação duas vezes mais ameaçadora. Enfim o filme evolui, revelando e explicando na medida ideal, e conclui de um modo altamente controverso — eu me conto entre os que adoraram o fim. Ainda sobre a questão sociológica, o filme não se limita a ser (realisticamente) pessimista sobre a natureza humana: também coloca frente a frente a atitude racionalista e irracionalista, se posicionando a favor da primeira como deve ser.
Spoiler filosófico (não leia se não viu o filme, sério): algumas pessoas interpretam isso de outro modo, dizendo que a mensagem do filme seria que tanto a Razão quanto a Fé excessivas são prejudiciais, e uma espécie de “caminho do meio” budista seria o ideal; tal interpretação surge da situação final do filme: se tivessem tido um pouco de fé, os racionalistas teriam sido salvos; mas se vendo racionalmente sem saída, se mataram. Não posso negar, faz sentido ler o final assim. E talvez tenha sido mesmo a sutil intenção dos realizadores. O filme não diminuiria por isso, a meu ver, se bem que nesse caso eu passasse a discordar de sua “mensagem”. Seja como for, penso que a intenção dos realizadores foi meramente fazer um final niilista — e, por isso mesmo, a Fé não faz sentido nenhum. E a Razão faz o que pode (“pelo menos, tentamos”). O fato é: se a Fé teria feito diferença ali, teria sido por mera sorte arbitrária — teria sido perfeitamente possível eles terem tido a mesmíssima fé e, graças a isso, morrerem de fome ou parasitados (em vez de morrerem sem dor, com um tiro). Teria sido até mais provável, de fato. Por isso, se a mensagem do filme é essa, é uma mensagem ruim.
Expectativa Correta: verei um incrível equilíbrio entre reflexão, intriga, terror e angústia crescentes.
―――――
 O Albergue
O Albergue
(Hostel, 2005, Eli Roth)
Nota: 9
Esse filme é magnífico. Ocorre apenas que é tão pesado, em sua óbvia intenção de funcionar como torture porn, que as pessoas consideram imoral gostar demais desse filme. O que é, por si, outra razão para eu ser fã da obra: ver os críticos, meio sem ter o que dizer contra, condenar moralmente a violência gratuita do filme. E não é gratuita, afinal. Não é por outra razão, a não ser pela força da violência exibida, que o terceiro ato consegue ser um dos arcos mais tensos e emocionantes do cinema: você nunca torcerá tão nervosa e obcecadamente por um personagem! Oras, não posso dar nota baixa para um filme que é tão poderosamente eletrizante. Agora, sim, nos poucos momentos (são, de fato, poucos) em que recai no torture porn, é pra valer. Tipo Jogos Mortais, só que mais realista e intenso — ameaçando doer de verdade em quem está assistindo, e num contexto psicológico bem mais terrível. Não obstante, vale comentar, há quem ache O Albergue leve (!!!): surpreendi-me ao ver um comentar, citando outros filmes de tortura japoneses ultra-realistas, “esses sim, cumprem aquilo que O Albergue apenas prometeu”. De fato (e só tive coragem de ver uns prints, no Google Imagens!). Voltando a O Albergue, assisti à versão do diretor, cujo final me parece bem melhor que o da versão original (que fui saber depois). Mas é o final da versão original que se encaixa com o segundo filme. Que por sinal também é ótimo.
Dou nota 8 para O Albergue — Parte II (Hostel — Part II, 2007, Eli Roth). Apesar de um começo frustrante, de atuações piores e de um final bem ruinzinho, faz o que poucas continuações fazem: engrandece o primeiro filme. É assustadora a estrutura em grande escala revelada aqui (sobretudo por ter um fio de pé na realidade: o diretor e roteirista, Eli Roth, teve a ideia para o primeiro filme justamente ao descobrir coisas similares na vida real! Não tão similares, felizmente.). A psicologia dos “clientes” também é aprofundada, e o perturbador é que faz todo o sentido que existam pessoas assim — quanto mais porque há relação comprovada entre psicopatia e status social! O filme compartilha boa parte da tensão do primeiro, e não fracassa em seu cerne porn torture: talvez seja menos pesado, talvez não (a opinião variará pra cada um), mas a clareza com que entendemos o deleite dos torturadores é chocante (nesse sentido, a cena envolvendo banho de sangue é… foda pra caralho!). O truque barato, para aumentar o choque, é que as infelizes protagonistas agora são mulheres. Bem, o truque barato funciona. Às maravilhas, rs.
Aí ainda tem O Albergue — Parte III (Hostel — Part III, 2011, Scott Spiegel) que, infelizmente, já é uma degeneração dos dois primeiros: o tipo de filme que sai direto em vídeo. Outro diretor, outra atmosfera, alterações ruins no espírito da série. Não merece mais que um 6,5. Mas ainda funciona um pouco e, se você adorou os dois primeiros, esse ainda vale ser visto. Pelo menos, eu achei. Repleto de situações implausíveis e cenas ruins (a pior: insetos computadorizados), ainda consegue ser tenso e evitar a chatice. Ainda consegue nos dar um senso de estar conhecendo um pouco melhor o universo por trás das torturas. Tudo bem uma parte IV, por mim.
Expectativa Correta: filme 1, ficarei desesperado e por fim nervoso como nunca; filme 2, sentirei entrar na mente de psicopatas e ficarei perturbado com a hipótese em larga escala apresentada; filme 3, bla.
―――――
 Mártires
Mártires
(Martyrs, 2008, Pascal Laugier)
Nota: 9,8
Nunca fui fraco para filmes de terror e violência. Ao contrário, sempre que dá faço questão de vê-los sozinho e de madrugada, de preferência com as portas da casa rangendo, que é pra ver se ajuda o filme a me causar algo (certamente ajuda, hehe). Mas esse filme francês aqui, por Lúcifer! Foi o único filme que me deixou realmente com medo e paranoico, assustado com barulhos aleatórios, até horas depois de vê-lo! O filme mais pesado — gráfica e psicologicamente — que já vi. Fiquei grudado na cadeira, de forma torturante, olhos arregalados, do início ao fim. E não bastasse ser um terror tão forte e desesperador, é um filme brilhante, com uma conclusão grandiosa em significado! Pra começar, é realmente aquele cinema de primeira categoria, com atuações plenas, maquiagens perfeitas, sonoplastia genial, etc. Entra-se no filme e não se sai mais, até horas depois de aquilo acabar. E, como vi um crítico comentar, é daqueles filmes que, assim que acaba, você quer rever imediatamente — só que nesse caso não vai fazê-lo, porque o filme é pesado demais. Particularmente, acho a condução da história genial: é incrível como ela se aproveita das terríveis emoções que acabara de despertar para alavancar outras, em seguida, totalmente diferentes mas igualmente terríveis. O timing é perfeito. Ao menos, funcionou perfeitamente comigo. E enquanto você fica preocupado com tantas coisas diferentes, umas são maravilhosamente resolvidas justamente dando lugar a preocupações piores ainda! Enfim, veja. E veja também, de preferência, sem sequer ler a sinopse. Só não veja se realmente detesta filmes fortes — esse aqui consegue ser pesado de todas as maneiras (mas se paga em seu brilhantismo, se é que você vai contar as sequências fortes como algo negativo).
Comentário com Spoiler (não leia se não viu o filme, sério): começando como um aparente sobrenatural típico, o filme já antes nos deixa inquietos psicologicamente por outra razão: quem são as pessoas por trás daquelas torturas tão frias e secas? E nisto já estamos bem cientes do peso insuportável que Lucie, traumatizada, carrega a cada hora de sua existência: um peso psicológico que, logo a seguir, se revelará literalmente enlouquecedor; pois vemos Lucie, 15 anos depois, assassinar a sangue frio uma família “comercial de margarina”. Seriam, supostamente, os responsáveis pelo seu trauma de infância. Mas Lucie está visivelmente louca, perturbada. Até sua amiga — tão leal que chega a intrigar — o percebe. E mal as coisas começam a se encaixar, em meio àquele desespero agressivo, somos alvejados com atordoantes sustos, tensão, revelações brilhantes, insegurança fulminante, além de todo o constante incômodo com a alta violência. Sem mais, tudo muda. O contexto se agiganta em meio a uma impotência aterradora, niilista. Mais desespero. Agressivo, chocante (depois entendemos: baratas!). E o pior é deduzirmos, em meio às angustiantes reviravoltas, que tudo está prestes a ficar indizivelmente pior. E fica! Neste ponto, o filme chega a ser genial: cria uma antecipação terrível pelo pior, e cumpre. Cumpre muito. É outra modalidade de mal-estar ser exposto ao sofrimento lento, continuado e crescente; e em que absolutamente não há esperança de salvação — a não ser por um momento, ilusoriamente, que é para alavancar o impacto da etapa derradeira. No contexto brutal do filme, termos a resposta para “onde eles querem chegar com tudo isso, afinal?” na forma da (nova) protagonista sem pele, mutilada, humanamente destruída para sempre, justamente quando esperávamos “o fim da dor”, é uma das mais fortes doses de melancolia que uma história já me fez beber. Outra vez, toda essa grandiosidade insuportável está a serviço de tornar épica a verdadeira conclusão de sabor religioso do filme. Sabor religioso pra valer, como no pior da Idade Média: aterrador, asfixiante, autoritário, mas dogmático e universal. Exatamente a força capaz de fazer pessoas normais cometerem atrocidades com a consciência tranquila. E a causa não poderia ser (religiosamente) maior: descobrir o que há “no outro mundo”, após a morte. O que ganhamos, ao fim do filme, é voltar a entrar em contato, por um momento, com a importância existencial fundamental da morte. Isso torna o filme algo mais. Pois raramente, por nosso próprio ânimo intelectual, conseguimos nos elevar ao nível adequado de assombro.
Por que o filme não leva um 10? É que o final, quando se pensa nele, não faz literalmente sentido: por que aquela senhora iria se matar sem nada dizer? Se o que escutou era maravilhoso, ela compartilharia com os demais; se era terrível, se matar só aceleraria sua ida a tal inferno (e embora essa alternativa tenha uma lógica pior, o clima das cenas me parece sugerir isso mesmo: que era insuportável pra ela viver com aquilo). Creio que, apesar disto, o final funciona psicologicamente: ficamos na dúvida sobre a verdade, dependentes de nossa própria reflexão pessoal. E devidamente chocados.
Expectativa Correta: ficarei violentamente nervoso e inquieto, de variadas formas, o filme inteiro (e depois dele!).
―――――
LISTA COMPLETA
(incluindo filmes que eu tinha visto antes, mas não resenhei acima)
1 — Terror em Silent Hill
(Silent Hill, 2006, Christophe Gans)
3,5 — A Cabana do Inferno
(Cabin Fever, 2002, Eli Roth)
4 — Madrugada dos Mortos
(Dawn of the Dead, 2004, Zack Snyder)
4,5 — A Casa de Cera
(House of Wax, 2005, Jaume Collet-Serra)
5 — O Vídeo de Benny
(Benny’s Video, 1992, Michael Haneke)
5,5 — Filme Caseiro
(Home Movie, 2008, Christopher Denham)
6 — O Colecionador de Corpos
(The Collector, 2009, Marcus Dunstan)
6,5 — Sexta-Feira 13
(Friday the 13th, 2009, Marcus Nispel)
6,5 — Vile
(Vile, 2012, Taylor Sheridan)
6,7 — Morte ao Vivo
(Tesis, 1996, Alejandro Amenábar)
6,7 — V/H/S
(V/H/S, 2012, [Nove Diretores!])
6,9 — Anticristo
(Antichrist, 2009, Lars Von Trier)
7 — Fenômenos Paranormais
(Grave Encounters, 2011, The Vicious Brothers)
► 6,5 — Fenômenos Paranormais 2
(Grave Encounters 2, 2012, John Poliquin)
7 — 8 Milímetros
(8 mm, 1999, Joel Schumacher)
7 — O Segredo da Cabana
(The Cabin in the Woods, 2012, Drew Goddard)
7 — Doce Vingança
(I Spit on Your Grave, 2010, Steven R. Monroe)
7 — O Chamado
(The Ring, 2002, Gore Verbinski)
7,2 — [A Entidade]
(Sinister, 2012, Scott Derrickson)
7,3 — Atividade Paranormal
(Paranormal Activity, 2009, Oren Peli)
7,5 — Temos Vagas
(Vacancy, 2007, Nimród Antal)
► 4 — Temos Vagas 2: A Primeira Diária
(Vacancy 2: The First Cut, 2008, Eric Bross)
7,5 — Extermínio
(28 Days Later, 2002, Danny Boyle)
7,5 — The Poughkeepsie Tapes
(The Poughkeepsie Tapes, 2007, John Erick Dowdle)
8 — Sobrenatural
(Insidious, 2011, James Wan)
8 — Violência Gratuita
(Funny Games [U.S.], 2007, Michael Haneke)
8,2 — O Nevoeiro
(The Mist, 2007, Frank Darabont)
8,5 — Os Outros
(The Others, 2001, Alejandro Amenábar)
8,7 — Cloverfield – Monstro
(Cloverfield, 2008, Matt Reeves)
8,7 — Enterrado Vivo
(Buried, 2010, Rodrigo Cortés)
9 — O Albergue
(Hostel, 2005, Eli Roth)
► 8 — O Albergue — Parte II
(Hostel — Part II, 2007, Eli Roth)
► 6,5 — O Albergue — Parte III
(Hostel — Part III, 2011, Scott Spiegel)
9 — [REC]
([REC], 2008, Jaume Balagueró, Paco Plaza)
9,2 — Jogos Mortais
(Saw, 2004, James Wan)
9,3 — Deixa Ela Entrar
(Låt den rätte komma in, 2008, Tomas Alfredson)
9,5 — A Bruxa de Blair
(The Blair Witch Project, 1999, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez)
9,8 — Mártires
(Martyrs, 2008, Pascal Laugier)






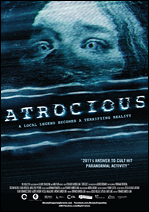 O Misterioso Assassinato de uma Família
O Misterioso Assassinato de uma Família A Cabana do Inferno
A Cabana do Inferno A Casa de Cera
A Casa de Cera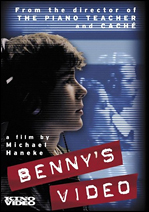 O Vídeo de Benny
O Vídeo de Benny Filme Caseiro
Filme Caseiro O Colecionador de Corpos
O Colecionador de Corpos Noroi: The Curse
Noroi: The Curse Sexta-Feira 13
Sexta-Feira 13 Vile
Vile Morte ao Vivo
Morte ao Vivo V/H/S
V/H/S Fenômenos Paranormais
Fenômenos Paranormais 8 Milímetros
8 Milímetros O Segredo da Cabana
O Segredo da Cabana [
[ Temos Vagas
Temos Vagas The Poughkeepsie Tapes
The Poughkeepsie Tapes Sobrenatural
Sobrenatural O Nevoeiro
O Nevoeiro O Albergue
O Albergue Mártires
Mártires








